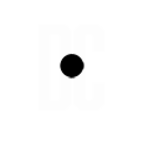O jornalismo sempre foi, em sua essência, o ofício de buscar a verdade. Informar com responsabilidade, ouvir todos os lados, contextualizar fatos, conceder voz às diferentes realidades — esse era o compromisso inegociável de quem assumia o microfone, a câmera ou a caneta com a missão de informar o público. Havia um pacto silencioso, mas sólido, entre jornalistas e sociedade: o de servir ao interesse público, e não aos interesses do mercado ou dos algoritmos.
Hoje, no entanto, vivemos um tempo em que esse pacto parece diluído. O jornalismo se vê cada vez mais confinado ao papel de entretenimento leve, imediato e muitas vezes raso. Em lugar da apuração rigorosa, temos a pressa da publicação. Em vez de matérias investigativas, ganham espaço as listas, os "reels", as "dancinhas", os conteúdos pensados para viralizar — e não para informar.
É claro que a sociedade muda, e as profissões mudam com ela. O surgimento de influencers e criadores de conteúdo é legítimo e bem-vindo dentro de seus propósitos. Mas há uma linha tênue e perigosa sendo cruzada: quando o jornalismo começa a se moldar aos moldes do entretenimento, perde sua identidade. Não é papel do jornalista bajular, brincar ou agradar — é analisar, questionar, denunciar, investigar. O espaço do contraditório desaparece quando o jornalista é pressionado a se comportar como uma figura carismática e “vendável”, em vez de um profissional crítico e ético.
Essa distorção não é fruto apenas dos novos tempos, da internet ou das redes sociais. É também reflexo de um modelo que passou a privilegiar o lucro acima do conteúdo. A ideia de que o bom profissional é aquele que faz tudo ao mesmo tempo — grava, escreve, edita, fotografa — serve apenas aos de cima na pirâmide, que enxergam economia de custos em detrimento da qualidade. E nós, muitas vezes, aceitamos esse novo ideal do “multitarefas” como se fosse evolução, quando na verdade é precarização.
No campo da fotografia, o dilema se repete. A cobertura fotográfica cuidadosa, pensada, que conta histórias por meio das imagens, foi substituída pela pressa de postar algo em tempo real — qualquer coisa que preencha o feed. O repórter que agora precisa fotografar e escrever, sozinho, entrega o mínimo que se espera, quando poderia, junto de um fotógrafo experiente, construir algo muito mais rico. Isso não interessa a quem lucra com a simplificação do processo.
E com isso, perdemos. Perdemos profundidade, perdemos a diversidade de olhares, perdemos o valor da análise e da crítica. Os eventos esportivos, culturais e políticos — antes retratados com apuro técnico e sensibilidade jornalística — agora se transformam em stories efêmeros no Instagram, editados para agradar e evitar polêmicas. O que não viraliza, não merece cobertura. E quem ousa discordar dessa lógica, quem ainda defende o jornalismo como ferramenta de reflexão, logo é silenciado ou considerado ultrapassado.
Mas nem tudo está perdido. O jornalismo que nos inspirou ainda resiste — mesmo que em nichos, mesmo que em menor escala. Ainda há profissionais comprometidos com a ética, com a escuta atenta, com a análise que vai além do óbvio. A saída, talvez, não seja apenas lamentar a mudança, mas ocupar os espaços onde a crítica ainda pode florescer. Criar nossos próprios canais, apoiar mídias independentes, valorizar quem continua fazendo jornalismo de verdade.
O jornalismo pode e deve evoluir. Mas evoluir não é se render à superficialidade. É encontrar novas formas de informar sem abrir mão dos pilares que o sustentam. Enquanto houver quem questione, quem investigue e quem conte boas histórias, ainda haverá esperança.